Médico especialista do artigo
Novas publicações
Imunodeficiência secundária
Última revisão: 04.07.2025

Todo o conteúdo do iLive é medicamente revisado ou verificado pelos fatos para garantir o máximo de precisão factual possível.
Temos diretrizes rigorosas de fornecimento e vinculamos apenas sites de mídia respeitáveis, instituições de pesquisa acadêmica e, sempre que possível, estudos médicos revisados por pares. Observe que os números entre parênteses ([1], [2], etc.) são links clicáveis para esses estudos.
Se você achar que algum dos nossos conteúdos é impreciso, desatualizado ou questionável, selecione-o e pressione Ctrl + Enter.
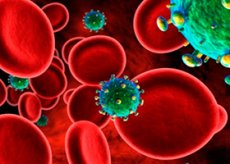
Prevalência significativa de doenças infecciosas e inflamatórias crônicas na população, lentas ao tratamento convencional e que acompanham muitas doenças somáticas; curso grave de doenças infecciosas agudas, às vezes terminando fatalmente; complicações sépticas após intervenções cirúrgicas, ferimentos graves, estresse, queimaduras; complicações infecciosas no contexto da terapia de quimiorradiação; alta prevalência de pessoas frequentemente e prolongadamente doentes, causando até 40% de todas as perdas de trabalho; o surgimento de uma doença infecciosa do sistema imunológico como a AIDS determinou o surgimento do termo imunodeficiência secundária.
A imunodeficiência secundária é representada por distúrbios do sistema imunológico que se desenvolvem no período pós-natal tardio em adultos e crianças e não são resultado de qualquer defeito genético. Apresentam um mecanismo de origem heterogêneo, levando ao aumento da morbidade infecciosa; curso atípico do processo infeccioso e inflamatório de diversas localizações e etiologias, resistente ao tratamento etiotrópico adequadamente selecionado. A imunodeficiência secundária é caracterizada pela presença obrigatória de infecção do processo inflamatório purulento. Deve-se observar que a própria infecção pode ser tanto uma manifestação quanto uma causa de uma violação da resposta imune.
Sob a influência de vários fatores (infecções, farmacoterapia, radioterapia, diversas situações de estresse, lesões, etc.), pode ocorrer uma falha na resposta imune, levando ao desenvolvimento de alterações transitórias e irreversíveis na resposta imune. Essas alterações podem ser a causa do enfraquecimento da defesa anti-infecciosa.
 [ 1 ]
[ 1 ]
O que causa a imunodeficiência secundária?
A classificação mais difundida e aceita de imunodeficiências secundárias foi proposta por RM Khaiton. Eles distinguem três formas de imunodeficiências secundárias.
- imunodeficiência secundária adquirida (AIDS);
- induzido;
- espontâneo.
A imunodeficiência secundária induzida ocorre como resultado de causas externas que causaram seu aparecimento: infecções, radiografias, tratamento citostático, uso de glicocorticoides, lesões e intervenções cirúrgicas. Além disso, a forma induzida inclui distúrbios imunológicos que se desenvolvem secundariamente à doença principal (diabetes, doença hepática, doença renal, neoplasias malignas). Na presença de uma causa específica que leva a um defeito irreversível no sistema imunológico, a imunodeficiência secundária é formada com manifestações clínicas e princípios de tratamento característicos. Por exemplo, no contexto da radioterapia e da quimioterapia, é possível causar danos irreversíveis ao conjunto de células responsáveis pela síntese de imunoglobulinas, e então esses pacientes, em seu curso clínico e princípios de tratamento, assemelham-se a pacientes com DIP com danos ao elo humoral da imunidade. No século XX, a humanidade encontrou pela primeira vez a infecção viral pelo HIV, na qual o vírus danifica irreversivelmente as células do sistema imunológico, resultando no desenvolvimento de uma doença infecciosa grave, a AIDS. Essa doença é caracterizada por uma alta taxa de mortalidade, suas próprias características epidemiológicas, seu próprio conjunto de manifestações clínicas e princípios de tratamento. Neste caso, o indutor do desenvolvimento da imunodeficiência é um vírus imunotrópico que danifica irreversivelmente os linfócitos, causando imunodeficiência secundária. Considerando o dano irreversível direto do vírus às células imunocompetentes (linfócitos T), bem como a gravidade e as características epidêmicas do curso desta doença, ela foi isolada em um grupo separado de imunodeficiência geneticamente não determinada, a saber, imunodeficiência adquirida secundária - AIDS.
Com um defeito reversível no sistema imunológico, não ocorre uma doença independente, mas há um aumento da morbidade infecciosa no contexto da doença subjacente (diabetes mellitus, doença renal, doença hepática, neoplasias malignas, etc.) ou no contexto de um efeito indutor (infecções, estresse, farmacoterapia, etc.). Essa imunodeficiência secundária pode frequentemente ser eliminada eliminando a causa que a causou e com um tratamento básico adequadamente selecionado para a doença subjacente. O tratamento desses pacientes baseia-se principalmente em um diagnóstico correto, na correção da patologia concomitante, levando em consideração os efeitos colaterais da farmacoterapia, que visa eliminar aqueles que levam à imunodeficiência.
A imunodeficiência secundária espontânea é caracterizada pela ausência de uma causa óbvia que tenha causado um distúrbio no sistema imunológico. A manifestação clínica desta forma são doenças infecciosas e inflamatórias crônicas, frequentemente recorrentes, do aparelho broncopulmonar, seios paranasais, sistemas geniturinário e digestivo, olhos, pele e tecidos moles, causadas por microrganismos oportunistas ou oportunistas. Pacientes com imunodeficiências secundárias espontâneas constituem um grupo heterogêneo, e muitos acreditam que essas doenças devem ser baseadas em algumas causas que ainda não foram determinadas. Pode-se presumir que a causa das imunodeficiências secundárias seja uma deficiência congênita de algum componente do sistema imunológico, compensada por um certo tempo devido à alta atividade funcional normal de outras partes desse sistema. Tal deficiência não pode ser identificada devido a vários motivos: abordagem metodológica inadequada, uso de material inadequado para pesquisa ou impossibilidade de identificar o distúrbio neste estágio de desenvolvimento científico. Quando um defeito no sistema imunológico é identificado, alguns pacientes podem posteriormente acabar no grupo com DIP. Assim, a fronteira entre os conceitos de imunodeficiências primárias e secundárias (especialmente na forma espontânea) pode ser condicional. Fatores hereditários e efeitos induzidos desempenham um papel decisivo na determinação da forma da imunodeficiência. Por outro lado, muitas vezes os pacientes recebem pesquisas insuficientes e, portanto, a causa da imunodeficiência permanece indeterminada. Quanto mais minuciosa for a análise de pacientes com imunodeficiência secundária espontânea, menor se torna esse grupo.
Em termos quantitativos, a imunodeficiência secundária induzida predomina. É necessário evitar o principal erro no manejo do paciente e na prática da assistência médica, quando o curso grave e lento de uma doença inflamatória infecciosa é causado não por um defeito no sistema imunológico, mas por uma abordagem incorreta das causas e efeitos, bem como por um erro de diagnóstico.
Como, no estágio atual, dada a base diagnóstica da imunologia clínica, nem sempre é possível determinar marcadores laboratoriais de estados de imunodeficiência, o diagnóstico de "imunodeficiência secundária" é, em primeiro lugar, um conceito clínico. O principal sinal clínico da imunodeficiência secundária é o curso atípico de processos inflamatórios infecciosos agudos e crônicos, que são insensíveis ao tratamento adequado.
Quando se pode suspeitar de imunodeficiência secundária?
As doenças mais comuns que podem acompanhar as formas congênitas e adquiridas de imunodeficiência e que exigem exame imunológico obrigatório:
- infecções generalizadas: sepse, meningite purulenta, etc.;
- bronquite crônica com recidivas frequentes e histórico de pneumonia e combinação com doenças otorrinolaringológicas (sinusite purulenta, otite, linfadenite), resistente à terapia padrão;
- pneumonia e broncopleuropneumonia recorrentes;
- bronquiectasia;
- infecções bacterianas crônicas da pele e do tecido subcutâneo (piodermite, furunculose, abscessos, flegmão, granulomas sépticos, paraproctite recorrente em adultos);
- infecções fúngicas crônicas da pele e membranas mucosas, candidíase, doenças parasitárias;
- estomatite aftosa recorrente em combinação com aumento da incidência de infecções virais respiratórias agudas;
- infecção recorrente pelo vírus do herpes de várias localizações;
- gastroenteropatia com diarreia crônica de etiologia desconhecida, disbacteriose intestinal;
- linfadenopatia, linfadenite recorrente;
- temperatura subfebril prolongada, LNG.
Essas doenças podem ocorrer no contexto de patologias somáticas existentes, cujo curso e tratamento predispõem à formação de imunodeficiência com diminuição da tolerância a infecções (diabetes mellitus; doenças autoimunes, oncológicas, etc.).
Como a imunodeficiência secundária se manifesta?
Os sintomas da imunodeficiência secundária são inespecíficos e multifacetados. A CID-10 não possui o diagnóstico de "imunodeficiência secundária", exceto para imunodeficiência adquirida (AIDS). Nessa classificação, adultos não têm diagnóstico de IDP (ao contrário da classificação pediátrica de doenças). Portanto, surge uma questão legítima sobre a coordenação do diagnóstico de "imunodeficiência secundária" com a CID-10. Alguns sugerem a seguinte solução para essa questão: quando as alterações no estado imunológico são irreversíveis e levam à formação de uma doença, o diagnóstico deve ser feito com base no defeito imunológico identificado, pois isso implica um conjunto específico e permanente de medidas terapêuticas, por exemplo, AIDS; OA com comprometimento do sistema complemento; o diagnóstico principal é um tumor cerebral; a condição após radioterapia e quimioterapia é hipogamaglobulinemia; sinusite purulenta crônica.
Quando as alterações no estado imunológico são reversíveis e acompanham doenças somáticas ou podem ser resultado de métodos de tratamento farmacológicos ou outros, as anormalidades laboratoriais transitórias determinadas não são incluídas no diagnóstico. O diagnóstico é estabelecido com base na doença de base e na patologia concomitante, por exemplo: o diagnóstico principal é diabetes mellitus tipo II, curso grave, variante insulino-dependente, fase de descompensação; as complicações são furunculose crônica recorrente e exacerbação.
Como reconhecer a imunodeficiência secundária?
Testes laboratoriais imunológicos de triagem (Nível 1) estão disponíveis, são apropriados e podem ser realizados em muitos hospitais e clínicas que dispõem de laboratório de diagnóstico clínico. Esses testes incluem estudos dos seguintes indicadores:
- número absoluto de leucócitos, neutrófilos, linfócitos e plaquetas;
- níveis de proteína e fração y;
- nível de imunoglobulinas séricas IgG, IgA, IgM, IgE;
- atividade hemolítica do complemento;
- hipersensibilidade tardia (testes cutâneos).
Uma análise aprofundada só pode ser realizada em uma instituição médica e preventiva especializada, com um moderno laboratório de imunologia clínica.
Estudos do estado imunológico em imunodeficiências devem incluir o estudo da quantidade e da atividade funcional dos principais componentes do sistema imunológico que desempenham um papel fundamental na defesa anti-infecciosa do organismo. Estes incluem o sistema fagocítico, o sistema complemento e as subpopulações de linfócitos T e B. Os métodos utilizados para avaliar o funcionamento do sistema imunológico foram divididos condicionalmente por RV Petrov et al., em 1984, em testes de 1º e 2º níveis. Os testes de 1º nível são indicativos; visam identificar defeitos graves no sistema imunológico que determinam uma diminuição da defesa anti-infecciosa.
Os testes de nível 2 são exames adicionais que visam identificar uma doença específica no sistema imunológico. Eles complementam significativamente as informações sobre o funcionamento do sistema imunológico correspondente.
Testes de nível 1 para avaliar a ligação fagocítica:
- determinação do número absoluto de neutrófilos e monócitos;
- determinação da intensidade de neutralização de microrganismos por neutrófilos e monócitos;
- determinação do conteúdo de formas ativas de oxigênio.
Testes de nível 1 para avaliação do sistema B de imunidade:
- determinação do nível de IgG, IgA, IgM e IgE no soro sanguíneo;
- determinação da porcentagem e do número absoluto de linfócitos B (CD19, CD20) no sangue periférico.
A determinação do nível de imunoglobulina é um método importante e confiável para avaliar as funções do sistema B do sistema imunológico. Pode ser considerado o principal método para o diagnóstico de todas as formas de imunodeficiências associadas à síntese prejudicada de anticorpos. Esse tipo de distúrbio é o mais comum. Pode acompanhar muitas doenças somáticas e condições agudas associadas ao aumento do catabolismo ou à síntese prejudicada de imunoglobulinas.
Testes de nível 1 para avaliação do sistema T da imunidade:
- determinação do número total de linfócitos;
- determinação da porcentagem e do número absoluto de linfócitos T maduros (CD3 e suas duas principais subpopulações: auxiliares (CD4) e assassinos (CD8));
- detecção da resposta proliferativa de linfócitos T a mitógenos (fitohemaglutinano e concanavalina A).
Os testes de nível 2 visam um estudo aprofundado do estado imunológico, identificação das causas de distúrbios e defeitos do sistema imunológico nos níveis celular, molecular e genético-molecular.
Testes de nível 2 para avaliação da fagocitose:
- determinação da intensidade da quimiotaxia dos fagócitos:
- estabelecimento da expressão de moléculas de adesão (CD11a, CD11b, CD11c, CD18) na membrana superficial dos neutrófilos;
- determinação da conclusão da fagocitose por semeadura ou citometria de fluxo.
Testes de nível 2 para avaliação do sistema B de imunidade:
- determinação do conteúdo de subclasses de imunoglobulinas (especialmente IgG):
- determinação do conteúdo de IgA secretora;
- estabelecendo a proporção de cadeias kappa e lambda:
- determinação do conteúdo de anticorpos específicos para antígenos proteicos e polissacarídicos;
- Determinação da capacidade dos linfócitos de responder a mitógenos com proliferação: células B - estafilococos, lipopolissacarídeos de enterobactérias; células T e B - mitógeno da erva-de-são-joão.
A determinação das subclasses de IgG tem certo valor diagnóstico, uma vez que uma deficiência nas subclasses de imunoglobulinas pode ocorrer com um nível normal de IgG. Em alguns casos, essas pessoas apresentam imunodeficiência secundária na forma de proteção anti-infecciosa IgG2 enfraquecida – uma subclasse de IgG que contém principalmente anticorpos contra polissacarídeos de bactérias encapsuladas (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae). Informações importantes sobre o estado da imunidade humoral são fornecidas pela determinação do nível de anticorpos contra antígenos proteicos e polissacarídeos bacterianos, uma vez que o grau de proteção do organismo contra uma infecção específica depende do nível geral de imunoglobulinas e do número de anticorpos contra seu patógeno. Portanto, a ausência de anticorpos IgG específicos para uma infecção anterior é sempre um sinal prognóstico favorável. Informações valiosas sobre o estado da imunidade humoral também podem ser obtidas pelo estudo de suas propriedades funcionais. Em primeiro lugar, isso inclui uma propriedade dos anticorpos como a afinidade, da qual depende em grande parte a força da interação dos anticorpos com o antígeno. A produção de anticorpos de baixa afinidade pode levar à proteção insuficiente contra infecções.
O sistema imunológico B pode ser avaliado pelo nível e qualidade da atividade funcional das imunoglobulinas, uma vez que são o principal produto final dessas células. Tal abordagem ainda é difícil de implementar em relação ao sistema imunológico T, uma vez que o principal produto final da ativação dos linfócitos T são as citocinas, e os sistemas para sua determinação ainda estão pouco disponíveis na prática da saúde. No entanto, a avaliação da atividade funcional do sistema imunológico T é uma tarefa extremamente importante, uma vez que essa atividade pode ser significativamente reduzida com um número normal de células T e a proporção de suas subpopulações. Os métodos para avaliar a atividade funcional dos linfócitos T são bastante complexos. O mais simples deles é a reação de transformação blástica usando dois mitógenos T principais: fitohemaglutinina e concanavalina A. A resposta proliferativa dos linfócitos T aos mitógenos é reduzida em quase todos os processos inflamatórios infecciosos crônicos, doenças malignas (especialmente do sistema hematopoiético); em todos os tipos de tratamento imunossupressor, AIDS e todos os tipos de imunodeficiência primária de células T.
A determinação da produção de citocinas por linfócitos e macrófagos continua sendo de grande importância. A determinação de citocinas como TNF, IL-1 e IF-γ desempenha um papel importante na etiopatogenia de diversos processos inflamatórios agudos e crônicos, não apenas de natureza infeciosa, mas também autoimune. Sua produção aumentada é a principal causa do choque séptico.
Vale ressaltar que as citocinas são mediadoras de interações celulares; elas determinam apenas a gravidade da inflamação infecciosa e não infecciosa.
O estudo da expressão de moléculas de ativação e de adesão na superfície dos linfócitos fornece informações importantes sobre o grau de sua ativação. A expressão prejudicada do receptor de IL-2 é observada em muitas doenças hematológicas malignas (leucemia de células T, leucemia de células pilosas, linfogranulomatose, etc.) e processos autoimunes (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, anemia aplástica, esclerodermia, doença de Crohn, sarcoidose, diabetes mellitus, etc.).
De acordo com as recomendações de especialistas estrangeiros e de acordo com as recomendações dos especialistas da OMS, os testes cutâneos no diagnóstico de imunodeficiências de células T são utilizados como testes de triagem ou testes de 1º nível. Os testes cutâneos são os testes mais simples e, ao mesmo tempo, informativos que permitem avaliar a atividade funcional dos linfócitos T. Testes cutâneos positivos com alguns antígenos microbianos com alta probabilidade permitem excluir a presença de imunodeficiência de células T no paciente. Várias empresas ocidentais desenvolveram sistemas padronizados para a configuração de testes cutâneos que incluem os principais antígenos para determinar a imunidade das células T. Isso permite avaliar a atividade funcional do sistema T de imunidade em condições estritamente controladas. Infelizmente, os sistemas de testes cutâneos para avaliar o sistema T de imunidade não estão disponíveis na Rússia e, portanto, praticamente não são utilizados.
Esquema de exame de vários elos do sistema imunológico
Imunidade humoral:
- principais classes e subclasses de imunoglobulinas: IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgA, IgM, IgE; IgA, IgM, IgG, IgE antígeno-específicas; complexos imunes circulantes;
- sistema de complemento: inibidor de C3, C4, C5, C1;
- afinidade do anticorpo.
Fagocitose:
- índice fagocítico de neutrófilos e monócitos;
- índice opsônico;
- atividade bactericida e fungicida intracelular dos fagócitos;
- formação de espécies reativas de oxigênio na quimioluminescência espontânea e induzida dependente de luminol e lucentinina.
Imunofenotipagem:
- CD19, CD3, CD3 CD4, CD3 CD8, CD3-HLA-DR, CD3-HLA-DR;
- CD3 CD16/56. CD4 CD25.
Atividade funcional dos linfócitos:
- Resposta proliferativa aos mitógenos T e B;
- Atividade citotóxica de células RL;
- Determinação do perfil de citocinas (IL I, IL-2, IL-4, IL-6, etc.).
Perfil de interferon:
- determinação de IF-a no soro sanguíneo e no sobrenadante de suspensões de leucócitos ativados pelo vírus da doença de Newcastle;
- determinação de IF-γ no soro sanguíneo e no sobrenadante de suspensões de linfócitos ativados por fitohemaglutinina.
Com base na natureza das alterações identificadas durante o exame imunológico, os pacientes com imunodeficiência secundária podem ser divididos em três grupos:
- pacientes com sinais clínicos de imunodeficiência e alterações identificadas nos parâmetros do estado imunológico;
- pacientes com apenas sinais clínicos de imunodeficiência e indicadores de estado imunológico normais;
- pacientes sem manifestações clínicas de imunodeficiência, mas com alterações identificadas nos parâmetros do estado imunológico.
Para os grupos 1 e 2, é necessário selecionar tratamento imunotrópico. O grupo 3 requer observação e exame de controle por um imunologista para descartar artefatos de pesquisa, bem como um exame clínico aprofundado para esclarecer as causas que levaram às alterações imunológicas.
Tratamento da imunodeficiência secundária
A principal ferramenta para o tratamento de pacientes com imunodeficiência secundária é o tratamento imunotrópico. Ele se divide em três áreas:
- imunização ativa (vacinação);
- terapia de reposição (preparações sanguíneas: plasma, imunoglobulinas, massa leucocitária, etc.);
- medicamentos imunotrópicos (imunoestimulantes, fatores estimuladores de colônias de granulócitos-macrófagos; imunomoduladores de origem exógena e endógena, quimicamente puros e sintetizados)
A escolha do tratamento imunotrópico depende da gravidade do processo infeccioso e inflamatório e do defeito imunológico identificado.
Terapia de vacina
A terapia com vacinas é usada apenas para fins profiláticos durante o período de remissão de doenças infecciosas e somáticas. Cada um dos medicamentos utilizados tem suas próprias indicações, contraindicações e esquemas de uso.
Terapia de substituição para imunodeficiência secundária
Pode ser usado em qualquer estágio do processo infeccioso e inflamatório. Os medicamentos de terapia de substituição são os medicamentos de escolha em situações agudas. As imunoglobulinas intravenosas são as mais frequentemente utilizadas. Os principais componentes ativos desses medicamentos são anticorpos específicos, obtidos de um grande número de doadores. Atualmente, as imunoglobulinas intravenosas são utilizadas para prevenir processos infecciosos e tratar doenças cuja patogênese apresenta defeitos na imunidade humoral. A terapia de substituição é realizada para suprir a deficiência de anticorpos em diversas doenças agudas e crônicas com imunodeficiência secundária, acompanhada de hipogamaglobulinemia, causada pelo aumento do catabolismo de imunoglobulinas ou pela violação de sua síntese.
O aumento do catabolismo de imunoglobulinas é observado na síndrome nefrótica, enteropatias de diversas etiologias, doenças por queimaduras, inanição, paraproteinemia, sepse e outras condições. A interrupção da síntese de imunoglobulinas ocorre em tumores primários do tecido linfoide durante o tratamento com citostáticos, glicocorticoides e radioterapia, bem como em doenças acompanhadas de toxicose (insuficiência renal, tireotoxicose, infecções generalizadas graves de diversas etiologias).
A frequência de administração e as doses de imunoglobulinas intravenosas dependem da situação clínica, do nível inicial de IgG, da gravidade e da prevalência do processo infeccioso e inflamatório. As preparações de imunoglobulina intravenosa mais amplamente utilizadas contêm apenas IgG: gabriglobina (imunoglobulina humana normal), octagam (imunoglobulina humana normal) e intraglobina (imunoglobulina humana normal). A imunoglobulina intravenosa contendo todas as três classes de imunoglobulinas (IgA, IgM, IgG) semelhantes à pentaglobina plasmática (imunoglobulina humana normal | IgG+IgA+IgM]) está incluída nos padrões para o tratamento de pacientes sépticos. Imunoglobulinas com título aumentado de IgG para antígenos específicos, como cytotec (imunoglobulina anticitomegalovírus) com título aumentado de anticorpos para infecção por citomegalovírus e neohepatec (imunoglobulina contra hepatite B humana) para hepatite B, são usadas com muito menos frequência. É necessário lembrar que preparações contendo IgA (pentaglobina, plasma) são contraindicadas para pacientes com imunodeficiência seletiva A.
Tratamento imunotrópico da imunodeficiência secundária
E atualmente não há dúvidas de que o uso de imunomoduladores de diversas origens no tratamento complexo de processos infecciosos e inflamatórios aumenta a eficácia do tratamento antimicrobiano. Os imunomoduladores são amplamente utilizados em pacientes com imunodeficiência secundária.
Princípios gerais do uso de imunomoduladores em pacientes com proteção anti-infecciosa insuficiente.
- Os imunomoduladores são prescritos em combinação com o tratamento etiotrópico do processo infeccioso. A monoterapia só é permitida na fase de remissão do processo infeccioso.
- A escolha do imunomodulador e o esquema de seu uso são determinados dependendo da gravidade do processo inflamatório infeccioso, sua causa, o defeito imunológico identificado, levando em consideração doenças somáticas e efeitos indutivos.
- Os principais critérios para prescrição de medicamentos imunomoduladores são as manifestações clínicas de imunodeficiência (presença de processo inflamatório infeccioso resistente ao tratamento etiotrópico adequado).
- As doses, os regimes e a duração do tratamento devem estar de acordo com as instruções do medicamento; o ajuste dos regimes de uso do medicamento deve ser realizado apenas por um imunologista clínico experiente.
- Se a instituição médica e preventiva em questão tiver o material e a base técnica adequados, é aconselhável usar imunomoduladores no contexto do monitoramento imunológico, que deve ser realizado independentemente das alterações inicialmente identificadas nos parâmetros imunológicos.
- A presença de qualquer parâmetro de imunidade detectado durante um estudo imunodiagnóstico em uma pessoa praticamente saudável não pode ser a base para a prescrição de tratamento imunomodulador. Tais pacientes devem ser submetidos a exames complementares e estar sob a supervisão de um imunologista.
Apesar de a ação dos medicamentos imunomoduladores ser multidirecional, cada um deles apresenta suas próprias vantagens. Em caso de lesão das células do sistema monócito-macrófago, utilizam-se polioxidônio (azoximer), galavit (aminodi-hidroftalazinodiona sódica), broncomunal e ribomunil. Em caso de defeitos na ligação celular da imunidade, recomenda-se a prescrição de polioxidônio (azoximer), taktivin (timo).
Extrato), timoten (alfa-glutamil-triptofano), timalina (extrato de timo), imunofan (arginil-alfa-aspartil-lisil-valil-tirosil-arginina). Em caso de síntese prejudicada de anticorpos pelos linfócitos B e afinidade prejudicada dos anticorpos ao determinante antigênico comum, galavit (aminodi-hidroftalazinodiona sódica) e mielopídeo são indicados. Alterações nos indicadores de status do interferon são corrigidas com medicamentos indutores de interferon ou terapia de reposição com IF natural ou recombinante.
É necessário ter cautela ao prescrever imunomoduladores na fase aguda do processo infeccioso. Por exemplo, preparações de origem microbiana não são recomendadas para uso neste período devido ao possível desenvolvimento de ativação policlonal de células do sistema imunológico. Ao usar citocinas, é necessário lembrar que as indicações para seu uso são leucopenia, linfopenia e baixa ativação espontânea de neutrófilos; caso contrário, podem provocar uma resposta inflamatória sistêmica grave, que pode levar ao choque séptico. O imunomodulador mais seguro nesses casos é o polioxidônio, que, além do efeito imunomodulador, possui propriedades desintoxicantes, antioxidantes e quelantes.
Imunoestimulantes
Preparações de fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos são usadas apenas em casos de leucopenia grave e agranudocitose sob monitoramento diário de exames de sangue clínicos.
Assim, devido à natureza multifatorial dos fatores etiológicos envolvidos na formação de uma doença como a imunodeficiência secundária, o sucesso do tratamento desses pacientes depende do profissionalismo do imunologista, que dará ênfase correta às relações de causa e efeito, avaliará adequadamente os resultados do estudo imunológico e selecionará o tratamento imunotrópico, o que reduzirá o tempo de hospitalização, prolongará a remissão em processos infecciosos e inflamatórios crônicos e, em alguns casos, salvará a vida do paciente.
Entre os imunomoduladores sistêmicos, merece destaque o uso de medicamentos indutores de interferon, entre eles o Lavomaks, comprimidos revestidos por película (princípio ativo: tiloron 0,125 g). O Lavomaks induz a síntese dos três tipos de interferon pelo próprio órgão, ativando mecanismos imunológicos celulares que, em conjunto, interrompem a reprodução de vírus e outros agentes intracelulares em células infectadas ou causam a morte e promovem a eliminação do vírus. A síntese de interferon no sangue após a administração do Lavomaks é determinada 20 a 24 horas após a administração do medicamento. Uma característica distintiva do Lavomaks como indutor de interferon é a capacidade de causar a circulação prolongada de doses terapêuticas de interferon no sangue, o que previne a infecção de células não infectadas e cria um estado antiviral de barreira, suprime a síntese de proteínas específicas do vírus e a reprodução intracelular do HPV. Além disso, a indução de interferon endógeno pode ser considerada um mecanismo fisiológico da gênese do interferon. Esquema de aplicação: 1 comprimido nos primeiros dois dias, seguido de 1 comprimido em dias alternados. A dose do tratamento é de 10 a 20 comprimidos.

